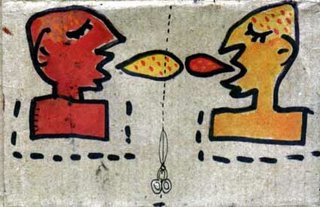Revista
Bula, 18 de setembro de 2006
CALDER
Exposição
do escultor e pintor americano, famoso como inventor do móbile, Alexander
Calder (1898-1976), na Pinacoteca de São Paulo, frustra um pouco pelo pequeno número de
obras.
Essas
peças de Calder têm em comum uma quase invisibilidade. (Há também o elemento
infantil, que, se encanta por um lado, também cansa, de tão explorado que foi
pela arte moderna, e que a mim, pelo menos, não me emociona tanto.) São
“desenhos quadrimensionais”, como definiu o autor. Feitas geralmente de peças
planas de metal suspensas por fios, elas exigem, como chegou a afirmar o crítico
brasileiro, Mário Pedrosa, uma “verdadeira reeducação da sensibilidade”.
A
maioria nessa exposição apresenta dimensões reduzidas e me parecem que ficam
deslocadas, confinadas nas salas de iluminação muito escura; penso mesmo que,
se isso não for impossível tecnicamente, estariam melhor ao ar-livre, expostas
às correntes de ar, e às mudanças de luz natural, nos espaços generosos e
ensolarados que tem o museu, e onde é possível conviver com as obras, de uma
forma muito mais agradável e direta.
(Interessante
constatar que, ao ver as fotografias da mostra, com a iluminação teatralizada, ficou
ainda mais encantador do que quando estive lá, “ao vivo”.)
A
exceção é uma peça maior, intitulada Viúva Negra, numa sala à parte, a qual conta
com a ajuda de um ventilador instalado no teto e um projetor, para fazer a
escultura literalmente bailar, por meio de um jogo de luz e sombra, com suas
formas espalhadas na parede, a luz vazando pelos orifícios e lados, criando um
duplo mecânico de si mesmo.
Há
ainda curiosidades, como uma cópia da maquete de uma obra idealizada para a Brasília,
e que segundo “entrega” o texto afixado na parede da exposição, reprodução de
uma carta do autor – na qual não deixa de criticar o contraste entre a
“suntosidade” dos prédios oficiais e as residências particulares na capital
brasileira –, a maquete original ficou nas mãos de Oscar Niemeyer. O plano,
para uma obra de 15 metros de altura para a Praça dos Três Poderes, foi apresentado
por Niemeyer a Juscelino Kubitschek, mas depois disso nunca mais se ouviu falar
nem no projeto, nem na maquete.